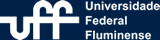Indígenas da etnia Munduruku, localizada no Pará, durante mobilização em Brasília. #ParaTodosVerem Um grupo de indígenas do povo Munduruku, alguns sentados e outros em pé, utilizam acessórios tradicionais e pinturas típicas do seu povo.
Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) analisou os impactos promovidos pelo avanço do agronegócio e da mineração na Amazônia Paraense e as principais consequências sobre as populações tradicionais e sobre o meio ambiente, articulando os conceitos de racismo ambiental, etnocídio e ecocídio para compreender o cenário de devastação da floresta no Pará. Somente em junho de 2021, o estado registrou 36% do total desmatado na Amazônia.
O estudo “Agronegócio e mineração na Amazônia Paraense: Populações tradicionais e racismo ambiental”, liderado pela professora Francisca Marli Rodrigues de Andrade (UFF), em parceria com Eunápio Dutra do Carmo (UFPA) e Alen Batista Henriques (UFF), teve como base uma análise quantitativa que utilizou dados sobre as exportações de commodities do agronegócio e da mineração fornecidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pela plataforma privada Thomson Reuters Eikon Datastream. A investigação avaliou o aumento da produção e exportação de bens produzidos por essas atividades para confirmar a dependência brasileira desse modelo econômico, que resulta em impactos a curto, médio e longo prazo no ambiente e nas culturas que coexistem com a Amazônia.
“Na pesquisa, focamos nos impactos ambientais que essa cadeia produtiva promove. Primeiro, devemos lembrar que as commodities são matérias-primas, do tipo agrícola, pecuarista, mineral ou ambiental, produzidas em larga escala com a finalidade de fornecer material para diferentes setores da sociedade”, explica Andrade. “A forma como esse modelo de produção se instalou no Brasil, tornou-se sinônimo de poluição ambiental e de concentração de terras por parte de grandes grupos econômicos”, afirma. A sobreposição desses dois fatores concretiza dificuldades múltiplas para as comunidades tradicionais, que envolvem povos indígenas, caboclos, ribeirinhos, quilombolas, pescadores e comunidades de várzea, como o acesso à terra e aos bens naturais, elementos indispensáveis ao modo de vida e de sobrevivência desses grupos.
De acordo com a professora, com uma orientação voltada exclusivamente para os ganhos econômicos em larga escala, esse modelo de produção expõe a biodiversidade e as populações tradicionais aos riscos provocados pelo desmatamento e pela contaminação de metais pesados nos rios e no ar, além da intoxicação por agrotóxicos utilizados nas plantações, sobretudo de soja, um dos principais cultivos do país — de janeiro a julho de 2023, o Brasil exportou cerca de 72,5 milhões de toneladas de soja conforme uma publicação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nesse “combo da destruição”, como a pesquisadora atribui, é difundida a ideia de que os povos indígenas, com sua cultura de coevolução e proteção da floresta amazônica, precisam ser eliminados para garantir a prosperidade econômica.
Os avanços do agronegócio e da mineração na Amazônia Paraense
No Brasil, a floresta amazônica é dividida em duas partes: Amazônia Ocidental, que cobre os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e Amazônia Oriental, composta pelos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia Legal (porção brasileira) representa uma rica diversidade ecológica e étnica, além de ser a maior floresta tropical do mundo e conter a maior bacia hidrográfica do planeta.
Apesar de discutir os avanços do agronegócio e da mineração na região ser difícil, já que possui conexão com a agenda política e econômica do país, essas são questões essenciais que “muitas vezes são deixadas de lado, porque causam determinadas tensões ideológicas”, analisa a professora. O interesse em estudar a Amazônia Paraense parte principalmente de dados empíricos e científicos, sobretudo em função do crescente desmatamento nos últimos anos, especialmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A cada mês, os dados revelavam que o desmatamento era muito mais progressivo, mas em junho de 2021 foi o auge desse fenômeno”.

Mina de ferro desativada da companhia Vale do Rio Doce, na Serra dos Carajás, em Parauapebas, no Pará / Créditos: Daniel Beltrá (Greenpeace)
#ParaTodosVerem Imagem aérea de mina de ferro desativada na Serra dos Carajás, no Pará, mostra uma grande área desmatada rodeada por floresta
A partir das informações disponibilizadas pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), plataforma de monitoramento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), foi possível compreender que no primeiro semestre de 2021 o desmatamento na floresta somou 4.014 km2. Apenas em junho, a perda de cobertura vegetal foi de 926 km2, 10% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Nesse mês, o estado do Pará registrou 36% desse desmatamento, uma área que equivale a quase o tamanho da cidade de Fortaleza.
“Isso significa uma proporção de terra desse tamanho desaparecendo, pulverizando e se tornando apenas uma grande área desmatada”, lamenta a docente.
Com relação à mineração, de acordo com o Boletim Econômico Mineral do Estado, o Pará liderou o ranking das exportações minerais do país durante janeiro a abril de 2021, correspondendo a 36% do total. Andrade explica que, na época, havia uma conjuntura formada por vários elementos, sendo eles um Governo Federal e um Congresso favoráveis às práticas de exploração dos recursos naturais em detrimento dos impactos sociais e ambientais: “Esses dados revelaram a urgência dos setores do agronegócio e da mineração em expandirem as suas atividades e ampliarem a rentabilidade dos seus empreendimentos, mediante uma conjuntura de mercado que considerou isso extremamente positivo”.
A conexão com o racismo ambiental
Recentemente, ao falar sobre as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no início do ano e afetaram todo o litoral do país, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, chamou a atenção da mídia para o conceito de racismo ambiental. A expressão surge também quando analisado o contexto de degradação do meio ambiente na Amazônia. Na pesquisa, o conceito foi utilizado para descrever principalmente as injustiças ambientais em um contexto racializado que é o da Amazônia Paraense: “Quando falamos em combate ao racismo, normalmente pensamos nas lutas sociais do movimento negro e afrodiaspórico. Ainda temos um pouco de dificuldade de associar a racialização das minorias políticas aos povos indígenas”, pontua Andrade.
No estudo, o conceito se refere ao modo como as comunidades e os povos tradicionais que habitam o coração da floresta são sistematicamente submetidos a situações de contaminação e degradação ambiental. Surge, assim, a inacessibilidade aos bens naturais como água potável, rios e ar limpo, aos alimentos saudáveis e à floresta preservada, essenciais para a sobrevivência dessas comunidades. Com a devastação do ecossistema para suprir a produção exploratória, não apenas a biodiversidade é afetada, mas também as culturas e os modos de vida que se desenvolveram há gerações no seio da Amazônia: “Quando essas populações desaparecem, desaparecerá também uma parte da história da humanidade”.
O futuro da Amazônia Paraense
De acordo com a pesquisadora, “as injustiças ambientais se intensificam quando as populações tradicionais suportam de forma desproporcional os impactos devastadores da dívida ecológica provocada principalmente pelos grandes empreendimentos e pelas grandes corporações”. Ao longo dos anos, a floresta e as comunidades que resistem nela sofreram e sofrem diversos tipos de violações de direito, incluindo queimadas intencionais e a violência letal, com assassinatos de ambientalistas, de defensores dos direitos humanos e de lideranças comunitárias. Conforme conclui Andrade, “isso evidencia que a forma como o setor de produção de commodities está instaurado no Brasil gera impactos para as populações tradicionais e também para a biodiversidade, afetando a sua forma mais elementar que é o direito à vida”.
A professora da UFF alerta que essas consequências, em proporções diferentes, afetam toda sociedade brasileira. A crise climática, que no Brasil tem provocado longos períodos de estiagem nas regiões mais secas e chuvas torrenciais cada vez mais devastadoras nas cidades litorâneas, é um exemplo concreto desse cenário. “A longo prazo, temos um quadro assustador, porque sabemos que o destino é o desaparecimento da natureza e das pessoas que habitam essa região”, declara.
Francisca Marli Rodrigues de Andrade é acadêmica brasileira, indigenista e com atuação nos movimentos sociais de defesa dos direitos humanos e da natureza. Doutora em Educação, Cultura da Sustentabilidade e Desenvolvimento pela Universidade de Santiago de Compostela (USC), com doutorado revalidado no Brasil pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), professora adjunta na área de Saúde e Meio Ambiente, vinculada à Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo do Departamento de Ciências Humanas do da UFF, docente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEn-UFF) e líder do grupo de estudos e de pesquisas Laboratório de Estudos Decoloniais (LEDec-UFF).